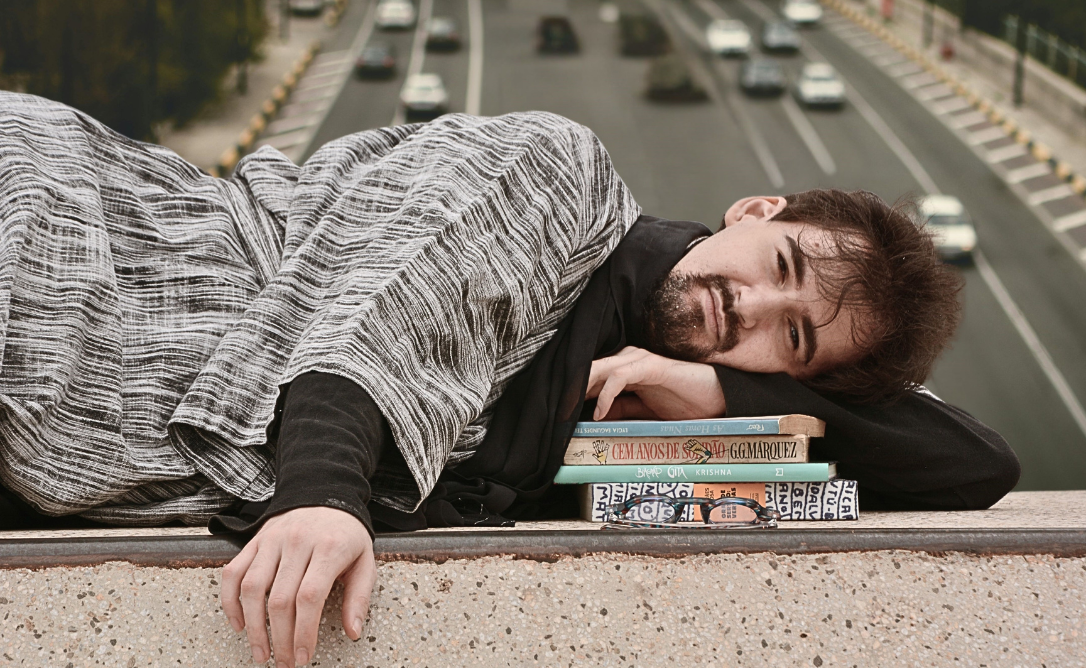Com reflexões que atravessam literatura, cinema e filosofia, o escritor e professor Wigvan Pereira dos Santos lança Palavras em movimento: estudos críticos, obra que reúne cinco ensaios sobre temas contemporâneos como maternidade, afetos digitais, memória cultural e representações orientais. Com olhar atento à produção goiana e influências da crítica pós-colonial, o autor propõe uma leitura crítica da realidade por meio das expressões artísticas e da constante transformação dos sentidos no cotidiano.
Seu livro propõe diálogos entre literatura, filosofia e o cotidiano — um trio que nem sempre anda junto. Como foi para você encontrar esse ponto de encontro entre temas tão densos e a vida comum?
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para responder a essas perguntas, feitas com tanto cuidado e atenção. Sobre a sua pergunta, o procurar um ponto de encontro entre esses três eixos, que você percebeu muito bem – a literatura, a filosofia e o cotidiano – não foi para mim necessariamente algo que me exigiu muito suor e isso por vários motivos. Primeiro que a filosofia e a literatura entraram muito cedo na minha vida. Minha irmã, que é mais velha sete anos, ao tentar conciliar o tempo que passava comigo, como em muitos lares brasileiros em que os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos enquanto os pais trabalham, às suas demandas escolares, acabou transformando a leitura dos romances que ela precisava ler em algo lúdico para mim. Então, por exemplo, quando eu tinha seis ou sete anos, ela precisou ler Dom Casmurro e propôs que a gente lesse juntos um ou dois capítulos por dia, então me pedia para buscar algumas palavras que definissem aquele capítulo – por exemplo, “igreja”, “amizade” – e, por fim, que eu encontrasse uma imagem em algum livro, jornal ou revista que ilustrasse. Para mim era algo leve, divertido e, ainda por cima, eu estava passando tempo com a minha irmã – muitos irmãos mais novos que eu conheço têm esse tipo de desejo de passar o tempo com os irmãos mais velhos, de uma forma em que realmente exista um diálogo, uma troca. Ao mesmo tempo, minha mãe fazia faculdade de Pedagogia e, no primeiro semestre, ela teve aula de Filosofia e comprou um livro de introdução à Filosofia – que, aliás, foi o único que ela comprou nos quatro anos de faculdade. Ela pensou que eu poderia gostar daquilo, então me deu o livro quando parou de usá-lo. Eu lia livremente o que queria, sem obedecer à linha temporal, movido apenas pelo meu interesse, e nós conversávamos sobre o que eu tinha lido uma vez por semana, geralmente às sextas, enquanto ela lavava roupa. Acredito que essa minha formação inicial fez com que eu relacionasse intuitivamente a literatura e a filosofia – e a vida, que é matéria de ambas. Mas também isso vem de uma atitude que eu tenho diante de cada livro, de cada texto que eu proponho a analisar: a atitude de escutar o que o texto está dizendo por si mesmo.
O interessante é que nós lemos o mundo, as coisas, as pessoas, as situações e, claro, os livros, a partir de todo o acervo que a gente constrói dentro de si durante a vida. E como eu estudo filosofia – porque a gente nunca termina de estudar filosofia –, quando eu me deparo com uma questão em um livro, quando o livro oferece aquela questão ou quando eu coloco uma questão a partir do que o livro apresenta, uma das minhas formas de responder vai ser por meio da Filosofia – mas também uso tudo o que eu acho que pode acrescentar à leitura, por exemplo, em um artigo que escrevi recentemente, sobre a noção de arte em Hannah Arendt, eu citei nas epígrafes dos intertítulos versos de uma música da Miley Cyrus que achei que eram pertinentes para aquele diálogo. E também eu vou atrás de coisas que eu não conheço, mas que acho que vão me ajudar a responder aquelas perguntas ou a formular outras perguntas mais interessantes. Por exemplo, em “Palavras em movimento”, todos os artigos que eu escrevi me levaram a buscar teóricos que eu nunca tinha lido. Por exemplo, Mikhail Bakhtin, que eu nunca havia lido, foi a referência principal de um dos artigos. A noção de memória cultural, que não é algo trabalhado necessariamente por filósofos, foi o centro da minha argumentação de um dos artigos. Os próprios textos que analiso – romances, contos e poemas – eu nunca os havia lido antes de escrever sobre eles, com exceção do romance “Sem Palavras”, que eu já havia lido, há mais de dez anos e lido com um olhar de um leitor que quer se entreter e não de alguém que precisa analisar aquilo de forma teórica. São duas abordagens diferentes. E a vida cotidiana é justamente essa ponte que nos ajuda a atravessar entre a literatura e a filosofia, entre o que está escrito e o que pode ser lido a partir daquilo, entre o olhar de leitor e o olhar de crítico.
No ensaio sobre a maternidade, você fala sobre o limite entre a sacralização e a monstrualização dessa experiência. Que reflexões pessoais te atravessaram ao mergulhar nesse retrato simbólico de algo tão íntimo e socialmente carregado?
A ideia de mãe é algo que me interessa muito há muito tempo, mas ela não despertou meu interesse por uma experiência direta, digamos assim, e sim por ver seus efeitos. Amigas próximas que engravidaram na adolescência e isso trouxe uma série de angústias para elas; a relação que a mãe do meu primeiro companheiro tinha com ele também foi algo que me tocou muito, porque ela não lidava bem com a sexualidade dele e isso causava muita tristeza para ambos; o desejo que a minha irmã tinha de ser mãe e que não foi fácil de ser realizado, o que deixou marcas incuráveis. Entre outras histórias de alunas, alunos, amigos que fizeram essa questão estar sempre de alguma forma presente. No meu último romance, “Sapatos Brancos”, o ponto fundamental é a relação entre quatro mulheres e seus filhos adolescentes, quatro tipos de pensar e de viver a maternidade. A arte é esse lugar em que a gente elabora muitas coisas que excedem a nossa estrutura, a nossa estatura, em que a gente pode exercitar o olhar para o mundo com o rosto do outro.
Eu nunca vou experimentar o que é ser mãe, isso está além de mim, mas a arte, por meio da leitura de um romance, por meio de uma escultura – a Camille Claudel tem umas esculturas bem interessantes nesse sentido, por exemplo –, ou quando eu mesmo produzo um conto, um romance, uma pintura, um filme, possibilita que eu consiga acessar um pouquinho esse fenômeno tão bonito, tão forte e que pode ser muito devastador. A pergunta que me fez pensar nesse artigo foi: por que quando a mulher não corresponde ao ideal de mãe, que é uma construção histórica, social e política, ela é empurrada para a categoria de “monstro”? O importante é a gente ter em atenção que a sacralização da maternidade também é uma forma de desumanização, uma forma de destituir a mulher de seus atributos humanos, como o desejo e o cansaço, por exemplo, de negar a elas o direito de descanso ao investi-las no cumprimento de uma missão sagrada que é uma sobrecarga a mais, além de todo o trabalho não-remunerado e não valorizado que se exige delas. Talvez, nesse sentido, poderíamos dizer até que a monstrualização de uma mulher que recusa assumir toda essa carga histórica e política que cai em seus ombros, embora injusta, seja um peso menor do que a obrigação de ser essa mãe sagrada.
Ao analisar o livro Sem Palavras, você mergulha nas relações afetivas no ciberespaço. Como você enxerga os efeitos da tecnologia nas nossas emoções e vínculos — especialmente em tempos de comunicação constante, mas, às vezes, superficial?
Eu vejo a tecnologia, quase sempre, de uma forma positiva, inclusive para as relações humanas. Por exemplo, quando eu era um adolescente que morava no interior de Goiás, sem ter por perto outros adolescentes que estavam descobrindo que suas sexualidades não estavam muito de acordo com o que a sociedade entende como adequado, eu conseguir fazer amigos em salas de bate-papo, que eu usava da escola, de lan house e, depois de algum tempo, de casa, quando minha irmã colocou internet em casa. E essa experiência foi muito importante para mim. Essas relações virtuais, com gente que eu nem sei o nome e com quem eu nunca mais tive contato, foram fundamentais para eu entender um pouco meu lugar no mundo. Então, o que é superficial? Eu tinha outras relações, com parentes, vizinhos e amigos, que frequentavam a minha casa, mas com quem eu não tinha a possibilidade de conversar esses assuntos porque eu não queria me expor para eles naquele momento, não por medo de não ser acolhido, mas era um diálogo que eu queria ter com alguém que fosse como eu e não que estivesse vendo a questão de fora.
Conheci uma garota, inclusive, de quem eu nunca soube o nome, mas naqueles dois anos em que a gente conversou, ela me apresentou a Almodóvar, a Fellini, a livros que eu não leria, a músicas que eu não ouviria e isso foi muito interessante. Além de tudo, naquela webcam e microfone eram artigos de luxo, então era sempre por escrito. Fico me perguntando qual a diferença entre a prática de conversar com um amigo virtual por chat e a prática dos hypomnemata – que, entre várias funções, cumpriam o papel de uma elaboração de si diante do olhar de um outro. E o que é mais profundo: uma relação virtual com alguém com quem você troca sentimentos, pensamentos, percepções, dores, alegrias ou uma relação na qual a outra pessoa está presente, mas com quem se conversa apenas trivialidades? Eu penso que as relações sociais, presenciais ou virtuais, têm a profundidade a qual o sujeito está disposto, nem as relações virtuais são superficiais por natureza, nem as presenciais são as que vão mais preencher o nosso espírito. A profundidade da relação depende do sujeito, não da presença física do outro. Eu tenho duas amigas com quem eu converso virtualmente há quinze anos, mas que eu nunca vi pessoalmente. E tenho colegas de trabalho com quem convivo diariamente e que não sabem nada ao meu respeito. Em vez de a gente pensar em como a tecnologia pode impactar negativamente a construção de vínculos duradouros, talvez fosse mais interessante pensar se a tecnologia não está sendo mais um subterfúgio para mascarar nossa falta de compromisso ético com o outro. Acredito que seja esse o cerne da falência das relações humanas que temos testemunhado, não apenas o advento das tecnologias de comunicação.
Você afirma que o curta “Hugo” ajuda a preencher lacunas da biografia de um autor por meio da imaginação. Até que ponto, na sua opinião, a ficção pode (ou deve) interferir na memória cultural de um povo?
Na verdade, a relevância do filme “Hugo” para a memória cultural de Goiás não é a de preencher lacunas biográficas. O cineasta Lázaro Ribeiro fez uma interpretação dos documentos aos quais ele teve acesso, das conversas com familiares e dos próprios textos escritos pelo Hugo de Carvalho Ramos. A imaginação tem o seu papel no filme, por exemplo a respeito da sexualidade do escritor, mas há um compromisso em não se distanciar muito do que os documentos dizem. Muitas cinebiografias não têm esse mesmo compromisso e isso dificulta que a gente tome certos filmes até como recurso didático em sala de aula. Se os fatos estão distorcidos, e não apenas interpretados, se estão muito distantes do que os documentos dizem, daí o valor dele é apenas como entretenimento. Pode ser um ótimo filme, o fato de distorcer a história não torna um filme ruim, da mesma forma que um filme extremamente correto historicamente pode ser um filme péssimo em termos de linguagem cinematográfica. Nós, humanos, gostamos muito de ficção. A ficção está presente desde as pinturas parietais e se alastra por todas as épocas.
Os povos sempre vão criar narrativas para celebrar os seus heróis fundadores e para reforçar valores a serem cultivados pelas novas gerações. Então, um filme, especialmente um bom filme, mesmo que não seja um filme histórico ou biográfico, vai contribuir para a memória cultural. Ontem mesmo estava revendo Rope, do Hitchcock, um filme que permanece atual e ousado mesmo tendo sido produzido na década de 40. É a adaptação de uma peça de teatro homônima do dramaturgo inglês Patrick Hamilton que, dizem, é baseada em um caso real, o assassinato de um adolescente de 14 anos por seus colegas. O filme, então, é uma ficção adaptada de outra ficção, mas faz um registro da anatomia da destrutividade humana que é atemporal e que pode nos ajudar a pensar o nosso próprio tempo. Então, de alguma forma, poderíamos dizer que é uma ficção que contribui para a memória cultural, pois era uma ficcionalização de um crime real do ponto de vista dos assassinos. A peça é de 1929, o crime ocorreu em 1924, era um crime recente, ainda intrigante – naquela época não existiam documentários true crime e nem canais de youtube, então imagino que a peça tenha tido um grande impacto sobre aquela sociedade e tenha contribuído em algum nível para que se elaborasse esse trauma. Não sei, estou ficcionalizando. É em um sentido diverso do curta “Hugo”, portanto, cujo valor é justamente dar um corpo, dar um rosto, dar uma voz a um escritor muito importante para a nossa literatura, uma forma de torná-lo presente para as novas gerações que muitas vezes nem sabem que ele existiu. Então, tanto a ficção bem realizada, tanto a cinebiografia que apresenta alterações pontuais para fins estéticos, mas que continua comprometida com aquilo que dizem os documentos, mas também os documentários, claro, podem contribuir para a memória cultural. Interferir, não sei. Porque quando se fala em interferir me faz pensar em um Prometeu trazendo o fogo para os homens e tornando-os mais independentes dos deuses, e eu não sei se é isso que a ficção ou a adaptação se propõem a fazer. Mas é possível. Só não pensei muito sobre isso para dar uma resposta mais assertiva. Fiz aqui um exercício de pensamento.
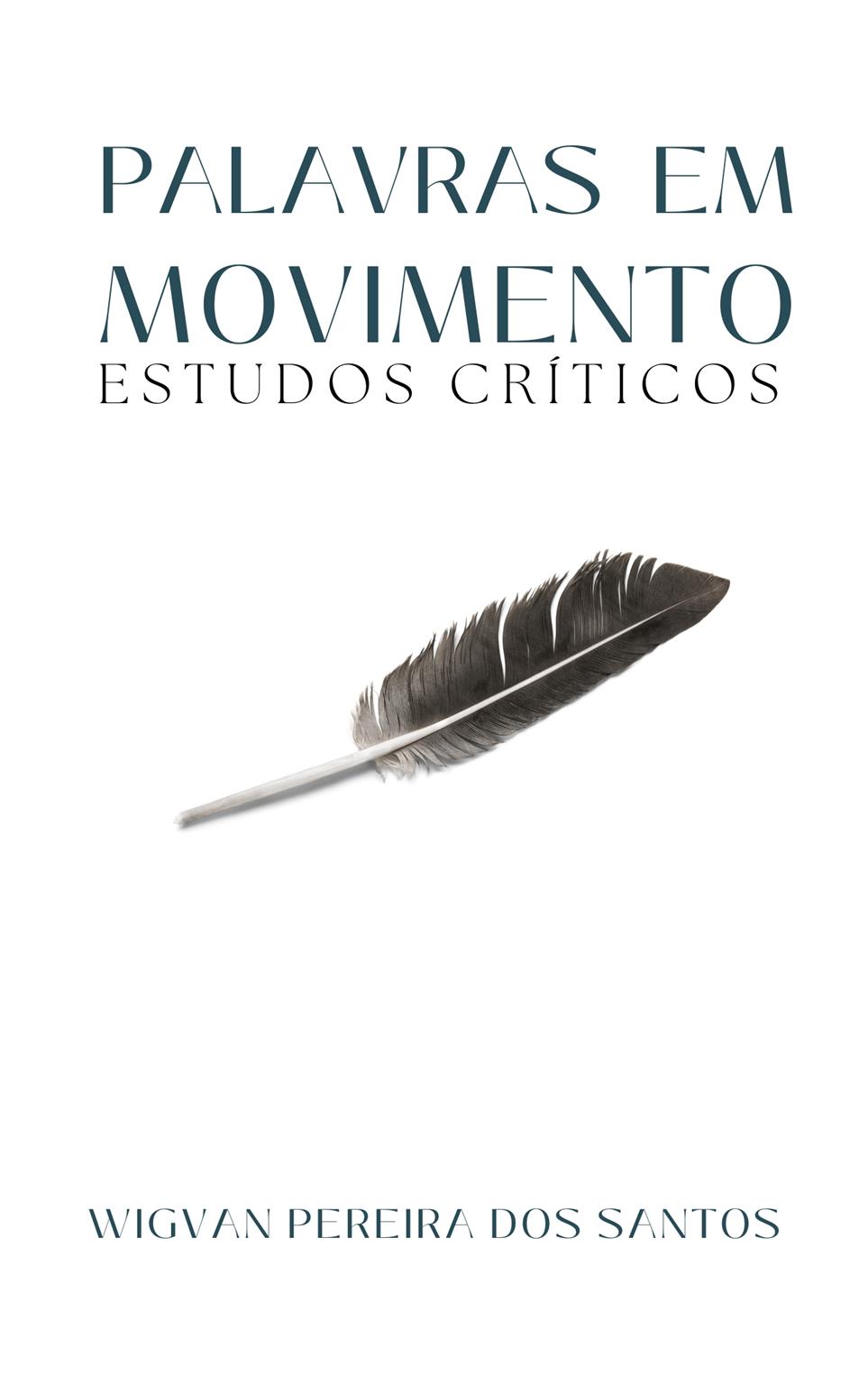
Seu livro discute estereótipos coloniais e propõe um olhar menos ocidentalizado para o mundo. O que te levou a querer confrontar essa visão e qual foi o impacto pessoal de revisitar essas narrativas por outros ângulos?
Eu comecei a pensar no colonialismo já na faculdade de Filosofia, por ver que nossa grade curricular era predominantemente composta por filósofos europeus – que são relevantes, claro, isso é inegável. No entanto, eu sentia falta de um debate que contemplasse outras realidades. Eu consegui passar em uma seleção concorridíssima de intercâmbio e pude estudar um ano na Universidade do Minho, em Portugal, mas eu já tinha completado minha carga horária de matérias obrigatórias, então fui fazer aulas de literatura, história da arte, teatro e cinema. Nas matérias de literaturas africanas, especialmente a de Literatura e Cultura de Cabo Verde, eu entrei em contato com essa visão crítica do colonialismo pela primeira vez: Homi K. Bhabha, Edward Said, Gayatri Spivak, Stuart Hall, Joseph Ki-Zerbo, além dos próprios artistas, Noémia de Sousa, José Craveirinha, Orlanda Amarílis, Germano Almeida – sobre quem fiz minha pesquisa de mestrado na USP.
Na literatura, é um debate que já vem sendo feito há pelo menos três décadas. Curioso é que foi em Portugal, e não no Brasil, que eu entrei em contato com esse pensamento e isso moldou toda a minha trajetória intelectual e profissional a partir de então. Foi isso que me fez retornar à Universidade do Minho no ano passado para um novo doutoramento, cujas unidades curriculares me motivaram a escrever os ensaios que estão neste meu livro, Palavras em Movimento.
Ao trabalhar com autores e obras tão diversos — de Goiás à Índia — você percorre várias geografias culturais. Como essas viagens simbólicas moldaram a sua forma de pensar o Brasil e a sua própria identidade?
Não são apenas viagens simbólicas. Eu já estive – morando ou em viagens longas – em diversos países e em diversas regiões do Brasil, sempre para fins de estudo e trabalho. Foi um propósito que eu tive muito claro desde o meu ingresso na universidade: o de que queria pensar em diversos lugares, para alargar meu mundo de dentro. Um filósofo, Vilem Flusser, fala mais ou menos que, quando nós somos estrangeiros em um lugar, nós tiramos o véu do hábito dos nossos olhos e, assim, conseguimos pensar de uma forma outra. É como se o não-pertencimento a um lugar contribuísse para que explorássemos outros territórios de pensamento. Flusser levou isso à radicalidade, escrevendo em diversas línguas, em português, inclusive. O mundo que eu vivo nunca me basta. Eu sempre preciso ir atrás de outros mundos para continuar me sentindo vivo. Esses ensaios – de Goiás à Índia – como você pontuou, foram produzidos em Portugal.
Ser estrangeiro é sempre um processo de adaptação, de encontrar um novo jeito de dizer, de encontrar novas formas de escrever. Se a gente está muito preso em si mesmo, a gente não consegue aproveitar ao máximo o mundo e todas as oportunidades de aprendizado que ele nos oferece. É importante a gente abrir mão de toda a imagem que construiu de si, ou pelo menos estar disposto a negociar com ela, para poder ser atravessado pelo outro – outro país, outra cultura, outra forma de pensar a relação com o conhecimento, nesse caso. E, de longe, a gente consegue perceber com alguma clareza que só a distância possibilita, tudo aquilo que temos de bom no nosso país, na nossa cultura, na nossa gente. Nós temos muitas coisas para nos orgulharmos no nosso país, apesar de todo o pessimismo que se impõe em alguns momentos.
Em vários momentos do livro, você parece sugerir que nada é fixo — nem a verdade, nem o conhecimento, nem a arte. Você acredita que essa fluidez é libertadora ou, às vezes, pode ser também um fardo?
Eu não sei, sinceramente, se eu sugiro isso no meu livro, mas respeito sua interpretação. Eu colocaria nestes termos: eu diria que o que nós entendemos como verdade é atravessado por inúmeras linhas de força – política, religião, costumes, sociabilidades. Muitas vezes a gente pode pensar que as coisas são como são porque não teria outra forma de ser quando, na realidade, nossos conceitos foram todos produzidos, não caíram do céu ou de uma árvore – talvez só os de Newton caíram de uma árvore rs. Paradigmas são alterados o tempo inteiro. Você me perguntou ali atrás sobre a tecnologia e como ela afeta as relações humanas: isso mostra que um paradigma, de relações afetivas que se desenvolviam apenas em contato direto e presencial, deu lugar a um paradigma em que as relações podem ser construídas entre pessoas que estão em outras partes do mundo. Mas antes, também houve um paradigma de relações que se desenvolviam por telefonemas, antes por cartas – e nem precisamos recuar tanto no tempo. As fotografias, que antes imprimíamos e distribuíamos entre as pessoas que amávamos, agora estão todas colocas nas redes sociais. Essas mudanças impõem novas questões éticas, impõem necessidades de regulamentação – por exemplo, há um debate jurídico e ético muito importantes sobre o uso de Inteligência Artificial generativa. Então, eu não usaria a palavra “fluidez” porque essa palavra parece carregar uma ideia de que essas mudanças são melífluas como passear de barco em um lago ao pôr do sol, como a passagem de tempo em uma novela do Manoel Carlos. Essas mudanças todas que acontecem são dolorosas, envolvem combates no campo das ideias e às vezes até no campo físico, produzem alguma instabilidade enquanto elas não estão estabelecidas de fato, nem sempre são bem aceitas por todos, ou nem mesmo compreendidas. Também são resultado de técnicas, de estudos, de investimento em pesquisa.
Da Vinci teve um grande impacto na história da arte, mas a técnica que ele apresenta é resultado de muita dedicação, observação e prática. Caravaggio demorou anos para desenvolver suas luzes e sombras. Van Gogh dedicou um tempo para cada nuance de sua Noite Estrelada. Muitas vezes as gerações não se entendem, porque foram forjadas em contextos muito distintos, a gente pode ver isso por exemplo em um caso em que Monteiro Lobato critica a obra de Anita Malfatti. Se a arte, o conhecimento e a verdade não são fixos é porque o ser humano não é fixo, nós sempre vamos ser impactados por aquilo que nos rodeia e aquilo que nos rodeia é fruto de fatores que não estão sob nosso controle. Se isso é um fardo… bem, estar lançado em um mundo com tantas possibilidades sempre trará uma dose de angústia, mas também pode trazer uma dose de libido, a depender de como a gente enfrenta a própria existência.
A obra foi realizada com apoio de um edital de formação em artes, e isso mostra que seu trabalho também dialoga com políticas culturais. Como você vê o papel da arte e da crítica nesse momento em que o país busca reconstruir laços culturais e sociais?
O apoio do edital de Ações Formativas do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (2023) me faz pensar até que ponto a arte depende das condições materiais e institucionais para existir socialmente. Quando um trabalho, como o meu, só se realiza graças a uma política pública, isso evidencia que a arte não é só questão de talento individual ou inspiração, mas é resultado de escolha coletiva sobre o que merece circular, ser visto, ser pensado. Existe, então, uma dimensão social da arte: ela só pode propor outras formas de comunidade se existe algum pacto de investir na produção artística e intelectual como política.
A crítica ocupa um lugar ambíguo nesse cenário. Por um lado, ela pode funcionar como mediadora, abrindo o trabalho à interpretação, desnaturalizando os sentidos dados e criando fissuras nos consensos. Por outro, há o risco de se encerrar em um circuito fechado de especialistas, o que, às vezes, distancia a produção do debate público mais amplo. O desafio é encontrar formas de crítica que não fiquem presas no Monte Olimpo, que desçam para a pólis, que tensionem, questionem e devolvam para a sociedade perguntas incômodas e necessárias. A critica tem uma dimensão formativa que não pode ser perdida de vista.
Em momentos de reconstrução de laços culturais e sociais, parece que a arte e a crítica podem ajudar a repor a pergunta sobre como queremos conviver, o que sustenta um horizonte comum, o que ainda pode ser dito e escutado. Isso me leva a pensar que talvez se trate menos de reconstituir algo perdido e mais de inventar linguagens e espaços para criar presença e sentido, diante das ruínas e dos silêncios do que foi desfeito.
Penso o encontro com a arte como aquele ponto em que a gente se reconhece um pouco no outro, ou sente o desconforto da diferença e de perceber que há outras formas de se pensar. Por isso, acho que a arte, em todas as suas formas, pode criar possibilidades de diálogo e de escuta, de pensar a si mesmo no contato com esse outro que, embora nem sempre compreensível, é fundamental para que construamos juntos o mundo comum. Além dos espaços canônicos – os museus, as universidades, as bibliotecas –, a arte precisa estar cada vez mais integrada à vida da cidade, das ruas e das periferias, não apenas para que as pessoas possam se formar como público, mas principalmente criando oportunidades para que as pessoas possam desenvolver suas habilidades e se expressar como artistas.
Acompanhe Wigvan Pereira dos Santos no Instagram