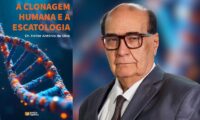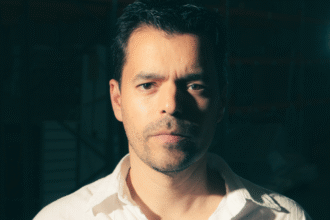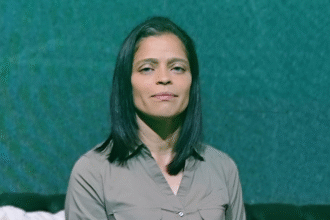Em seu sexto livro, “A Figa Verde e a Misteriosa Mulher De Branco” (Editora Paka-Tatu), o escritor e jornalista Paulo Roberto Ferreira, nascido e criado na Amazônia, explora os horrores e a resistência cultural durante os “anos de chumbo” da Ditadura Militar no Brasil. A obra, ambientada entre 1964 e 1985, revela as consequências devastadoras do autoritarismo sobre as populações nativas da Amazônia, trazendo à tona um capítulo esquecido da história nacional.
O que o inspirou a ambientar sua história em um cenário amazônico durante os anos de chumbo?
Poucas pessoas sabem que a Amazônia foi palco de uma guerra em que o Estado brasileiro e os grandes grupos empresariais do Sudeste e do exterior investiram contra a floresta, as populações tradicionais e o subsolo da região. Quando o governo militar de 1964 deu a senha “terra sem homens para homens sem-terra”, foi dada a largada para a substituição de árvores centenárias por capim para gado, a extração mineral intensiva, abertura de estradas e o barramento de rios para geração de energia. Sem discussão ambiental e sem respeito pelos territórios indígenas e posses das populações tradicionais. Os resultados foram impactos de proporções gigantescas.
Como você integrou a realidade histórica da Ditadura Militar com a ficção em “A figa verde e a misteriosa Mulher de Branco”?
O romance revela os dramas de cidadãos comuns afetados no período ditatorial. Uma freira castigada por trabalhar na pastoral operária em Contagem (MG) é enviada para Conceição do Araguaia; um garoto maranhense sofre violência num quartel por ser filho de sertanista; um jovem tratorista participa da abertura de estradas (inclusive em terras indígenas). Todavia, há um elemento figurativo: uma misteriosa mulher, que trajava sempre roupa branca. Ela salva um jovem guerrilheiro ferido no confronto com tropas federais e aparece – de forma real ou imaginária – para várias personagens da trama, que incluiu o pessoal da área cultural que se reunia às proximidades do Theatro da Paz, em Belém.
Qual foi o maior desafio na criação dos 72 capítulos curtos e na construção da narrativa que aborda a Guerrilha do Araguaia e suas consequências?
A preocupação na hora de escrever foi desenvolver um relato simples, capaz de manter o interesse do leitor até o fim da trama de cada personagem, por isso capítulos com uma breve sequência narrativa. A Guerrilha do Araguaia está presente porque este é um capítulo da história do Brasil ainda pouco conhecido da população, sobretudo pelas novas gerações. No entanto, o foco da obra não é somente a guerrilha, e sim todas as formas de violências que afetaram as populações amazônicas.
De que maneira a sua pesquisa sobre o período histórico influenciou o desenvolvimento dos personagens e da trama?
É claro que a produção literária sobre a Guerrilha do Araguaia me ajudou na definição do perfil de alguns dos personagens, mas teve peso também a minha própria vivência como jornalista. Trabalho na Amazônia há quase 50 anos. Acompanhei as notícias sobre a guerrilha, a partir da segunda metade da década de 1970. Conheci pessoas que sobreviveram ou que conviveram com os guerrilheiros. Assim como tive contato com algumas figuras que tiveram atuação determinante na derrota do movimento armado. Acompanhei muitas lutas de posseiros contra grileiros e latifundiários. Noticiei listas de pessoas marcadas para morrer e cobri muitos velórios de lideranças do campo e de pessoas que apoiavam os que resistiam na terra, como os religiosos e os advogados. Vi áreas extensas de castanhais (castanha-do-pará) desaparecerem do cenário físico no sudeste paraense.

Como você vê a relação entre as estratégias indígenas e a resistência contra a opressão retratada no livro?
As populações indígenas representam a parte mais frágil dos povos da floresta. Desde o início da colonização, elas são afetadas pelas doenças dos brancos. A violência contra seus territórios e seus valores culturais tem sido constante nesses mais de 500 anos de contato com o chamado “povo civilizado”. Por conhecer a região, as populações indígenas conseguem, em muitos episódios, se camuflar e se proteger dos ataques diretos. E isso o caboclo da Amazônia assimilou, por isso, sabe, por exemplo, evitar um ataque de onça, conforme está na narrativa a respeito da personagem Djanilo.
Que papel a música, o teatro, o cinema e a poesia desempenham na narrativa e na resistência descrita em sua obra?
Os produtores culturais de Belém, lideranças estudantis e personalidades democráticas, vítimas do regime militar, utilizam seus espaços e seus ofícios para denunciar de forma subliminar o que estava acontecendo no país, principalmente na Amazônia. Em pontos de encontro, como o Bar do Parque, as pessoas falam de seus temores e dividem informações que chegam do interior da região. Isso vai despertando consciências e motivando a produção de letras musicais, peças de teatro, exibição de filmes em circuito fechado, troca de livros que estavam proibidos e organização de entidades de apoio a luta dos camponeses, dos moradores da periferia e retomada das organizações estudantis.
Pode falar sobre a importância da figa e da mulher de branco na história e como esses elementos simbolizam a resistência e a salvação?
A figa verde é um amuleto que o pai entrega ao filho no momento que eles se separam e vai ser um elemento de reencontro 40 anos depois. A mulher de branco é uma figura real e mística numa região marcada por lendas, mitos e encantarias que povoam o imaginário popular. Ambos são elementos identitários para um povo que precisa lidar com os aspectos da realidade, mas também expressa sua forma particular de enfrentá-la.
A Amazônia é biodiversidade e também riqueza cultural que se configura como forma de resistência popular e isso gera sentimento de pertencimento quando se compartilha as experiências. Basicamente, é sentir-se amazônida ao reconhecer esses elementos até nas páginas de um livro.
Como sua formação acadêmica e experiência como jornalista e pesquisador influenciaram sua abordagem para este livro e seu tema?
Não basta conhecer a Amazônia pisando em seu território. É preciso refletir sobre todo o processo de ocupação e rapinagem que a região vive. As universidades, institutos de pesquisas e estudiosos têm um papel muito importante na nossa formação. Figuras, como Lúcio Flávio Pinto, arrastaram-me para o jornalismo alternativo em 1975. Fiz parte da equipe do “Bandeira 3”, um tabloide que me despertou para a necessidade de conhecer e escrever sobre a Amazônia. Acompanhei o trabalho do jornalista acreano Elson Martins, um dos fundadores do “Varadouro”, o jornal da selva. Depois escrevi em outro nanico, o “Resistência”, em Belém. Estudei no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos/UFPA, e essa formação tem influência direta sobre o que escrevo.
Acompanhe Paulo Roberto Ferreira no Instagram