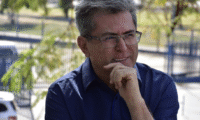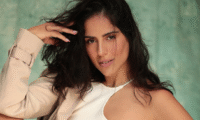Em Tavares Terra: A diáspora mineira, os Tavares Terra e José Theodoro de Souza no sertão paulista, o escritor e pesquisador Henrique Chagas transforma uma minuciosa investigação genealógica em um retrato contundente sobre as origens do Brasil profundo. A obra revisita a trajetória da família Tavares Terra e do pioneiro José Theodoro de Souza, fundador de cidades do sertão paulista, para expor o impacto da Lei de Terras de 1850, os conflitos fundiários e a violência contra povos originários que moldaram o interior do país no século XIX. Com linguagem envolvente e precisão histórica, Chagas une memória, poesia e crítica social para reconstruir uma narrativa que devolve humanidade aos nomes esquecidos pela história oficial.
Sua obra transforma uma pesquisa genealógica em uma verdadeira epopeia histórica. Em que momento você percebeu que o levantamento da própria ancestralidade poderia se tornar também uma narrativa sobre o Brasil profundo?
Percebi isso quando descobri o parentesco com José Theodoro de Souza, chamado “último dos bandeirantes” e líder da conquista do oeste paulista. A partir daí, a pesquisa deixou de ser apenas familiar — tornou-se uma viagem pela própria formação do Brasil profundo, onde as histórias de uma linhagem se misturam com a própria história do sertão paulista.
“Tavares Terra” mostra que a história das famílias é também a história das terras e das feridas que nelas ficaram. Como foi emocionalmente revisitar esses registros e lidar com as violências que moldaram o sertão paulista?
Foi intenso. Fiquei surpreso, boquiaberto, ao perceber a proximidade dos fatos. Cada documento trazia não só nomes e datas, mas também marcas de dor, violência, expulsões e o apagamento dos povos originários. Entendi que a violência fundadora do sertão ainda ecoa nas desigualdades de hoje. Escrevi para reconhecer essas feridas; e para suportar o peso delas, procurei narrar os fatos com sobriedade, sem expor em excesso a minha dor.
Você menciona a importância de devolver humanidade a nomes esquecidos. Qual foi o encontro mais marcante dessa pesquisa — aquele personagem ou documento que o fez enxergar o passado com outros olhos?
Sem dúvida, o encontro com a certidão de batismo do meu bisavô (1842), Francisco Leite das Chagas, o “Chico Terra”, filho de João Tavares Terra, que acompanhou a bandeira de José Theodoro de Souza. Ali percebi que, por trás de um sobrenome inventado, havia uma vida inteira: um lavrador mineiro anônimo, mas essencial no desbravamento do sertão paulista. Posso citar também Henrique Tavares da Silva, meu octavô, degredado dos Açores pelo Tribunal do Santo Ofício em 1652, cuja história simboliza a força, a resiliência e o sofrimento que moldaram nossa origem.
O livro aborda o impacto da Lei de Terras de 1850 e a legitimação das grilagens. Ao escrever, você sentiu que essa herança jurídica ainda ecoa nas desigualdades e disputas territoriais do Brasil atual?
A Lei de Terras de 1850 transformou o Brasil num país onde a terra passou a ter dono, e quase sempre o mesmo dono, excluindo indígenas, negros e colonos. No Pontal do Paranapanema, essa herança é evidente: grandes propriedades nasceram de antigas grilagens, enquanto comunidades ainda lutam por espaço e dignidade. Os conflitos fundiários permanecem abertos; e os governos, ao legitimarem terras devolutas, repetem o ciclo histórico de favorecimento aos latifundiários e grileiros.
José Theodoro de Souza é apresentado como símbolo de uma época em que fé, poder e ambição se misturavam. Qual foi o maior desafio de retratar um personagem histórico sem transformá-lo em herói nem em vilão?
O maior desafio foi olhar José Theodoro de Souza e seus homens com humanidade, sem idealização nem julgamento. Ele foi um homem do seu tempo: corajoso e visionário, mas também protagonista de um processo violento e cruel de ocupação e colonização. Procurei mostrar suas contradições: a fé que o guiava, a ambição que o movia e as consequências advindas. No fundo, ele reflete a cultura do Brasil que ajudou a moldar.
Sua escrita equilibra rigor técnico e sensibilidade poética. Como você encontra o ponto de encontro entre o pesquisador e o escritor, entre o dado histórico e a emoção da narrativa?
Acho que esse equilíbrio vem do respeito às fontes de pesquisa. Primeiro estudo os documentos, depois deixo que as emoções encontrem seu espaço. Não dá para escrever sobre o sertão sem sentir o que ele provoca. O pesquisador busca a verdade dos fatos, mas é o escritor quem traduz as vozes esquecidas. No fim, um completa o outro e dá sentido à narrativa.
Você faz uma analogia poderosa entre a saga da família Tavares Terra e produções como Yellowstone. O que essa comparação revela sobre o quanto ainda precisamos reconhecer e valorizar nossas próprias epopeias nacionais?
Revela que o Brasil tem histórias grandiosas, mas ainda pouco ou mal contadas. Yellowstone mostra o mito americano da conquista do oeste; e nós temos o nosso, com dramas, violências, injustiças e resistências muito mais complexos. A saga dos mineiros no sertão paulista é uma dessas epopeias brasileiras não contadas do nosso oeste paulista. Precisamos olhá-las com o mesmo senso crítico que outros povos dedicam às suas.
“Tavares Terra” parece ser também um convite para repensar o que significa pertencimento — à terra, à família, à história. Depois dessa jornada, como você enxerga hoje o conceito de ‘origem’?
Hoje entendo que origem não é um ponto de partida, até porque são inúmeros os pontos de partida, mas um caminho que continua em nós. Ela não está apenas no passado, está naquilo que herdamos: gestos, valores, feridas e sonhos. Descendemos dos visigodos, tidos como povos bárbaros, e dos sefarditas perseguidos pela Inquisição, que cruzaram o Atlântico e, séculos depois, ajudaram a conquistar o oeste paulista. Pertencer é reconhecer essas camadas e transformá-las em consciência. Conhecer a origem, no fundo, é reconciliar-se não com o passado, mas com o próprio destino.
Acompanhe Henrique Chagas no Instagram